1 Anatomia do ócio, de R. Leontino Filho
Eis a primeira pergunta que faríamos a R. Leontino Filho, a propósito do
seu livro de poemas intitulado Anatomia do ócio: Poesia é sinónimo de ócio?
Poesia implica um tempo privilegiado, o tempo em que
não existe a preocupação nem a pressão do negócio. Implica igualmente, neste livro,
uma maneira lúdica de lidar com o verbo, assinalando eu a mestria com que se lança
a língua portuguesa no campo de jogo. Mestria própria de grandes escritores, a negar
que existam duas ou mais línguas chamadas Português. Não, existe o bom e o mau português,
cá e lá. Não sabendo de antemão que R. Leontino Filho é brasileiro, Anatomia
do ócio passaria por livro de um poeta nascido em Portugal.
E porque o tempo da poesia é sagrado como o do templo,
o da magia, o da comunicação com os deuses e figuras míticas, Leontino Filho comunica
com eles quando escreve os seus poemas. É assim que um dos aspetos mais evidentes
do livro se traduz na ausência de elementos endóticos, brasílicos, esses fundamentos
de uma literatura que a modernidade dos anos 20 – Oswald de Andrade, por exemplo,
com o Manifesto da Poesia Pau-Brasil – apelidou de primitivistas e nacionalistas.
Na nossa modernidade, século XXI, R. Leontino Filho
prefere experimentar, prefere o laboratório, em suma, aquilo que aproxima as letras
das imagens, desenhando na página com os poemas, e aquilo que na poesia é comum
à música, caso mais evidente das repetições e das toadas próprias do romance, poema
narrativo de vínculo popular. E existem ainda os textos que aliam o visual ao oral,
como “Rota”, no qual todos os versos se iniciam por “Há os que”, metade seguindo
com “seguem” e a parte final com a negação. Cito o primeiro e último versos: há os que seguem o amor por luas, e não são felizes//
há os que negam por negar, e minguam, esses
não.
Se bem que os procedimentos referenciais do autor tendam
para uma poesia discreta, secreta, que não se interessa por tornar identificáveis
os acidentes da realidade comum, por vezes o autor fica muito familiar nosso ao
dar conta dos seus afetos, o que nos deixa na presença de belos poemas de amor,
como “Dentro da noite penso em ti”. Este texto finda com uma alusão que nos obriga
a dar atenção ao termo medieval, uma vez
que à aparente simplicidade e pureza destes poemas não é estranha a leitura da lírica
trovadoresca:
Volta e meia
o amor perturba o sono descontente das estrelas
e o luar embaraçado
por tantos murmúrios
arma a provisória tenda da paixão:
O meu olhar de neblina
costurado na memória
tece a infância medieval
do teu corpo.
Faz parte ainda da experimentação o texto elaborado
à maneira barroca, e aí já se trata de “Ofício”, título do poema, de ser um bom
oficial das letras, mais do que negá-lo com o ócio. Neste poema, cujas estrofes
se iniciam todas da mesma maneira, pelo desejo de abraçar, os últimos três versos
começam sempre pela mesma letra:
os braços descrevem a dádiva da carne:
comprimem
suspiros
sopros
soltos
Temos então como referências condutoras da atenção do
leitor as exóticas, aquelas que remetem para o clássico, em especial a cultura greco-latina,
com os seus deuses e heróis, os seus Prometeu e Ulisses, e uma poesia de amor a
que não falta o pranto de despedida de Eneias ao afastar-se Dido, rainha de Cartago:
“Elisa, Elisa!”, lamenta o herói. Rodeada pelo léxico alusivo às civilizações do
Mediterrâneo, à presença dos navios e da viagem, essa Dido/Elyssa surge, sob o nome
de uma possível jovem do nosso tempo:
Na pele de Elisa, se exaurem
Afrodite em necrosada ofensiva contra Erímanto.
Na pele de Elisa se desequilibram
Narciso impassível, Prometeu impertinente, Sísifo
intranquilo.
Fluindo como um navio no Mediterrâneo, carregado com
as preciosidades de uma cultura milenar, mencione-se a propósito um dos últimos
poemas, o belíssimo “Âncora leve”, este livro merece um louvor também ao editor,
Floriano Martins, que aliás assina o prefácio e os grafismos, pela beleza e boa
qualidade da edição.
2 A diversão de
Marco Luchesi
Três livros de Marco Lucchesi para investigar, dois tão parecidos como irmãos
e um terceiro, Hinos matemáticos, tão diverso como habitante de outro planeta:
o Catálogo da biblioteca do Excelentíssimo Senhor Marquês Umbelino Frisão,
etc. partilha com os Rudimentos da língua laputar a índole e a circunstância
de não precisar de ser lido na íntegra. Listas, índices, dicionários, enciclopédias,
gramáticas, a Bíblia, o Alcorão, os catálogos das espécies, das bibliotecas em geral
e da do Excelentíssimo Senhor Marquês Umbelino Frisão em particular, consultam-se,
para aferir algum registo, apurar algum procedimento linguístico, rememorar algum
elemento mais perdido na memória, mas não se leem de fio a pavio como se fossem
romances. Aliás, nenhum dos três livros necessita desse modo de apreensão, apropriado
só para a narrativa, cujos lances exigem atenção a todas as frases e palavras, segundo
a ordem em que o autor os registou, sob pena de perdermos o fio à meada.
Um aparte cumpre, entretanto, deixar quanto à narratividade.
Não se tratando nem de romance, nem de novela, nem de conto, o total dos enunciados
convoca a ideia de contar (a ideia de contar está sempre presente no terceiro livro,
Hinos matemáticos, mas aqui é mais precisamente um contar digital), contar
uma história, e iria até mais longe: uma história do si/self, ou autobiografia.
Se dermos atenção a que os livros incluem notas como
a explicação de que a imagem do dragão é para reduzir às dimensões de um selo, e
que por baixo deve vir o nome da editora, Balur, sem a palavra editora, se repararmos na licença para imprimir,
no colégio que tão relevante poder detém, no colofão, e se nos dispusermos a inquirir
a origem de topónimos, antropónimos e matérias dos livros catalogados, ou se conseguirmos
apreender a etimologia mais profunda dos elementos de composição do glossário laputar,
enfim, nessas circunstâncias, tarefas, descobertas, humilhações e perplexidades,
o leitor vai tecendo uma narrativa, diria que privilegiadora de uma personagem esfumada
atrás da persona do que escreve, o Autor, o que pressupõe que o Autor declina
a responsabilidade da biografia do self na competência exegética do Leitor.
Outra personagem, interlocutor paralelo, trazida quiçá
do cinema que nos deu a ver o Homem Invisível, é então o leitor. Enquanto tece a
narrativa, o leitor vai aprendendo muito, pois não é qualquer escritor que dispõe
da bagagem técnica, literária e filosófica que estas obras patenteiam. O Leitor
imagina um Autor completamente enfastiado, após horas de compilação de notas de
leitura numa biblioteca de ficheiros manuais, visitada à noite por morcegos para
se empanturrarem com as traças, a parodiar noutra obra todas as chatezas próprias
de uma tese de doutoramento. Por detrás dela ri o sábio, o filósofo de antigamente, o que prescrevia sangrias aos doentes,
curava do horto botânico e às escondidas produzia a pedra filosofal no atanor com
o orvalho colhido em maio, na meia-noite do plenilúnio. Por conseguinte, a estrutura
narrativa existe, virtualmente, em suspensão, dependendo, já não do autor, sim do
temperamento do leitor. Além desta, existe a biografia de Umbelino Frisão, cujo
perfil transparece do que escreveu e outros escreveram sobre ele, fator de criação
de uma personagem cuja principal característica é a de se empanturrar com livros,
como Gargântua e Pantagruel se empanturravam
com comida e vinho e o autor certamente se empanturrou à maneira do bibliotecário
organizador destas páginas, dele e minhas.
A terceira obra de Marco Lucchesi, Hinos matemáticos,
em comum com as aludidas mostra apenas a dispensa de leitura ordenada do princípio
para o fim e de todos os seus componentes. Quanto ao mais, é muito distinto, nos
sentidos vários do termo, que englobam também a superior educação e superioridade
dos graus académicos obtidos. É distinto pela elegância, subtileza, depuração alquímica
dos elementos em cadinho e decantados, por isso diverso pela purificação, que é
sempre um subir de degrau em degrau, até aos altos graus. Não esquecendo a originalidade
própria de um livro de poemas dedicado à matemática, bem sabendo nós que os hinos
são mais comumente dedicados às Lauras, Eurídices, Beatrizes e Virgens Marias. Não
esquecendo igualmente que, salvo raras exceções concretistas, experimentais e coevas,
os poetas, sobretudo românticos, mas também surrealistas, habituados à falta de
razão das emoções e pulsões libidinais, apreciam a escrita tão espontânea quanto
jorra da nascente, sendo de todo avessos à necessidade de correções e à ideia de
escrever versos com a precisão matemática de uma balança eletrónica, melhor dizendo,
de máquina dotada de inteligência artificial, aliás utilizada para os melhores efeitos
poéticos desde há décadas, não parecendo entretanto que Marco Lucchesi pertença
a esta comunidade científica e artística. De acordo com as suas declarações aos
meios de comunicação, ele ama tanto a Matemática quanto a Filosofia e a Literatura,
e para escrever poesia matemática não precisa de recorrer a robôs. Assim fica inscrito,
de resto, no poema “Indeciso”, em que manifesta um, para nós, falso dilema:
studio la matemática
o lascio le donne?
No poema imediatamente anterior, “Nascita di Venere”,
fica de resto muito claro que o hino não tem por alvo Botticelli nem a sequência
de Fibonacci, sim um representante de le donne, o que prova a nossa hipótese
de trabalho de que o autor sabe como hibridar materiais conspícuos pela sua diversão,
a exemplo de tradição e modernidade, línguas e glossolalias, símbolos e carateres
gráficos, Vénus e Mathesis:
Tua nudez em raios de incisiva luz
em sonhos decomposta
números figuras
Nas úmidas meninas dos teus olhos
ó Aᶲrodite
eu pouso meu ardor
Corpo sem véu
espuma
Assombro negação
Os desenhos
do matemático
e do poeta devem
ser belos
Flores
Teoremas
desmaiam
em súbitos
jardins
sob crepúsculos
fugazes
A beleza é a primeira prova
da matemática
Vejamos agora o que se passa com a diversão, e especificamente
com a diversão académica, própria dos habitantes das instituições universitárias,
que se exprime nas tunas, nas serenatas, nas queimas de fitas, nos livros de autoria
coletiva, nas partidas e nas praxes, praxes que hoje tendem para uma estupidez que
já tem descambado em morte, e mais valia desaparecerem na vetustez de livros como
o sempre por mim lembrado Palito Métrico, cujo título pode não ser bem este,
mas refere essa praxe inocente e altamente educativa em matemática, a de medir a
ponte sobre o Mondego com um palito. O título, decerto mais longo, como convém ao
trabalho académico, é a muito aproximada referência a uma obra das mais famosas,
produzida por um coletivo de estudantes da Universidade de Coimbra, na sequência
dos anos, estudantes originariamente frades, pois que eles é que sabiam latim, e
mais curricularmente o latim macarrónico no qual se redigem as páginas da exemplar
monografia, e porque eram frades, no dealbar dos tempos estudiosos, os que frequentavam
as escolas catedralícias depois erigidas à categoria de universidades.
Não chega o meu latim ao ponto de avaliar o de Marco
Lucchesi, mas não espantaria que um admirador de autores tão humanistas como Rabelais
e, como este, cultor de línguas francas e sub-reptícias, sob o manto diáfano da
greco-latinidade e demais poliglotismo, não tivesse produzido a maior algaravia
linguística e bibliográfica da modernidade.
Se Marco Lucchesi não leu o Palito Métrico, devia
ter lido, se bem que há de ter devorado muita obra fradesca afim, enquanto preparava
na biblioteca da Universidade de Coimbra algum trabalho académico da maior responsabilidade.
Nesse ínterim, não é difícil imaginá-lo, como a qualquer outro erudito entediado,
a copiar e simultaneamente a estropiar as fichas manuais religiosamente conservadas
e outras diabolicamente extraviadas das correlativas gavetas de boas madeiras, trazidas
dos longes ultramarinos, pau-brasil e pau santo, quem sabe? Estropiar é boa forma
de aprender, eu decerto não deliro se recordar que um dos trabalhos de casa encomendados
no meu tempo pelo professor Jacinto do Prado Coelho foi precisamente o de recriar
por diversas palavras, por consequência para fins de diversão, certo número de títulos
da ficção portuguesa, à maneira do Humor de Perdição de Herman José (humorista
português), variante do Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco (português
também, mas ficcionista). A paródia que o exercício implica constitui os alicerces
de obras das mais notáveis de todas as literaturas, haja em vista Umberto Eco e
Jorge Luis Borges, inventores de livros falsos e bibliotecas imaginárias, mas haja
sobretudo em vista o autor do Catálogo da biblioteca do Excelentíssimo Senhor
Marquês Umbelino Frisão etc., Lúcio Marchesi, aliás Marco Lucchesi.
Apuleio, com o seu burro de ouro, representa talvez
o mais antigo autor na ordem da diversão cuja tendência se patenteia na obra de
Marco Lucchesi. Diversas marcas das patas e outras partes anatómicas da asinina
cavalgadura impressionam as sensíveis folhas dos livros de Lucchesi, a mais importante
delas, mais do que o logos asinino e a
licença para imprimir, apesar de tudo, será porventura o nome de ambos, pois em
ambos inquieta o mesmo nome luciferino: Lúcio Apuleio e Lúcio Marchesi.
É, no entanto, com François Rabelais que mais me agrada
comentar o memorial da diversão, tanto mais que ele figura, com a biblioteca imaginária
de Saint Victor, na matriz do Catálogo da biblioteca do Excelentíssimo Senhor
Marquês Umbelino Frisão etc., e decerto noutros pontos da viagem empreendida
pelo autor brasileiro nos diversos pisos do edifício cultural europeu, até europeizar
a ponto de se lhe poder atribuir em génio cultural essa característica. François
Rabelais, que deve ter estudado na escola catedralícia de Notre Dame que veio depois
a chamar-se Sorbonne, autor de monumental obra que extravasa de um Gargântua
e de um Pantagruel que tantos avaliam como excelente manual de cozinha, e
aos livros excede ainda em ditos de eterna filosofia como O hábito não faz o monge e O fruto
proibido é o mais apetecido, em comum com Marco Lucchesi/Lúcio Marchesi, além
da veia do riso e do excesso, da biblioteca imaginária e do imaginário da biblioteca,
comunga ainda o gosto pelo anagramático alterego a que usualmente se chama pseudônimo. Sob a ameaça da censura da Sorbonne,
Rabelais escreveu sob anagrama do seu próprio nome, Alcofrybas Nasier. Tal não evitou
que Pantagruel passasse ao rol dos livros obscenos e censurados, o que na
verdade é uma honra, tantos anos passados. De facto, em 1564, o Index librorum
prohibitorum, promulgado pelo Papa, classificou as obras de Rabelais como heréticas,
talvez por às receitas de cozinha ter preferido as da sempre louvável Alquimia.
E neste passo cumpre referir que, sendo Marco Lucchesi
um autor de equivalentes excessos e transgressões, estes não se manifestam de igual
forma, porque desnecessário nos nossos tempos, creio bem. O acervo de vocábulos
iconoclastas esvaziou-se de paixões, pelo menos em Portugal, quando jovens quase
adolescentes empreendem programas televisivos sobre a sua vida mais sexual do que
amorosa, para tanto usando o vocabulário que a Sorbonne rotulou de obscenidade em
autores como Rabelais. Passados ao uso corrente, e o fenómeno deve ser global e
não apenas português, os termos esvaíram-se de poder de faísca e escândalo, daí
por certo a razão de não figurarem nas obras de Umbelino Frisão, Lúcio Marchesi
nem de Marco Lucchesi. Em todo o caso, como já referi, o temperamento do escritor
brasileiro é demasiado requintado para se comprazer em grands mots; ele tende
para a estilização, para a beleza depurada patente na jardineira poesia dos Hinos
matemáticos. No entanto, de forma residual, dir-se-ia, figuram vestígios do
léxico fescenino aqui e ali, a exemplo da expressão Rudimentos da língua laputar,
a menos, claro, que seja pecado de pensamento da minha parte ler na língua dos habitantes
de Laputa algum atrevimento.
A ilha de Laputa, pátria dos falantes da língua laputar,
é a erroneamente identificada por Gulliver como Lilliput. O pequeno gigante deve
ter usado um mapa falso, costume aliás dos navegadores, para afundarem a concorrência,
ou estaria delida a caligrafia, porém a sílaba final, put, identifica ambas inequivocamente como a mesma e só uma. De resto,
se dúvida houvesse, nada como recorrer a Alfred Jarry para ter a certeza. Se atentarmos
no frontispício dos Rudimentos da língua laputar, verificamos que constituem
uma proposta patafísica que nos dispensa de chamar Ubu à colação:
Bazati dir Harstä Laputar
Rudimentos da Língua Laputar
Binodanä Patarfișä
Proposta Patafísica
A língua laputar é muito curiosa, porque, tal como Marco
Lucchesi o declara, é adâmica; de resto, é adâmico também o jardim dos Hinos
matemáticos. Significando isto que no implícito Paraíso viveram felizes Adão
e Eva, antes da expulsão devida ao pecado que Rabelais justificou com o seu famoso
aforismo, O fruto proibido é sempre o mais apetecido, razão suficiente para
a obra ter sido considerada herética. Esta circunstância edénica, adicionada a vários
pormenores significativos dos Rudimentos e outras obras do autor brasileiro,
aproximam-no não só da cultura europeia em geral como da lusitana em particular.
Basta dizer que o principal veio da Filosofia Portuguesa é o saudosismo, e que a
saudade, projetada no futuro de eternidade pelo desejo do Desejado/El-rei D. Sebastião,
essa é saudade dos tempos felizes em que Adão e Eva viveram no jardim do Paraíso.
Saudosismo é então o desejo de encontrar além da morte o mesmo Paraíso que existiu
na Criação. Lembremos que está em causa um caso particular, especificamente lusitano
de messianismo, o que não é estranho aos estudos aprofundados que levaram Umbelino
Frisão a publicar obras como A morte do sebastianismo, publicada em 1972
em New York, pela casa Theodor Books, e do anterior ensaio dedicado a essa figura
que tantos confundiram com o Messias, “Inimigos de Salazar”, de 1948, dado à luz
em Moscovo, nas famosas edições Mir.
Seja por vontade de paródia seja por partilha de ideais,
o sebastianismo implícito nesse desejo de Regresso ao Paraíso, para atalhar
caminho com o título com que Teixeira de Pascoaes explica do que é a saudade que
dá fundamentos à cabalística Filosofia Portuguesa, acrescido de um logos espermático
que a mim remeteria diretamente para a obra de um dos seus legitimadores, António
Telmo, sem esquecer o lamento tão camoniano de Marco Lucchesi, quanto ao aprofundamento
da língua laputar: Teria sido oportuno um
acurado estudo etimológico, mas a tanto não chegaram meu engenho e arte, tudo
isto nos leva a considerar repleta de portuguesia a linguagem, a cultura e até a
disposição de espírito do autor, ao conceber obras de tão alta valia e empatia com
os lusos ancestros.
Um assunto de relevo deve anotar-se ainda, por revelar
que a evolução também se manifesta na cultura e nas exigências académicas: se Pantagruel,
da biblioteca de Saint Victor, só coligiu títulos, o que lhe valeria classificação
negativa, Lúcio Marchesi procede de maneira a atingir o máximo na escala de valores,
20 em 20, já que a sua técnica de listar bibliografia é perfeita na complexidade
de elementos a recolher: autor, título, editor, local de edição, número de páginas,
ilustrações e data. Acrescem outros pormenores, claro, tratando-se de iconografia,
pois é necessário distinguir entre aquarela e óleo, ou entre xilogravura e litografia.
Sendo poliglota a biblioteca de Umbelino Frisão, Lúcio Marchesi, compilador, também
denota superior conhecimento das variadas línguas em que foram escritas as obras,
poucas gralhas havendo a registar. Neste campo sensível das gralhas, sabendo-se
que são aves palradoras e bisbilhoteiras, é necessária detença para apontar uma
falta a Marco Lucchesi: a de errata. A errata é fundamental nas obras escritas sob
censura inquisitorial, e não será ociosa a referência ao facto de o Catálogo
ter obtido superior licença para ser impresso, transcrevamos:
Nihil Obstat
Imprimi Potest
Fid. Cav. Hig.
V.Q.L. Dati
Aureum Asinorum
Collegium
A errata é tão fundamental que penso residir nela o
ninho da Língua das Aves, em que também nidificam os Rudimentos da língua laputar.
Obra em que Marco Lucchesi, se não bebeu, podia ter bebido, é a Ennoea, de
Anselmo Caetano Munho’s de Avreu Gusmão e Castello Branco, cuja errata começa logo
com o título, que saiu Ennoea em vez do alegadamente pretendido Ennea.
Melhor será transcrever na íntegra o título que, apesar da errata (não anexa,
sim impressa com a obra a que pertence), nunca foi corrigido, nem pelo autor, quando
reparou na gralha, nem em edições póstumas: Ennoea ou Aplicação do Entendimento
sobre a Pedra Filosofal. A errata, nesta obra, é parte intrínseca da Ennoea,
tão extensa e aparatosa que mais parece outro livro, aquele que, a ter sido exposto,
talvez não tivesse recebido o Nihil Obstat. É hipótese minha que, em tempos
de censura prévia e de Inquisição, os autores se socorrem de línguas laputares,
diplomáticas, verdes ou das gralhas, para passarem para o leitor o que têm a dizer,
e outra técnica de despiste para o efeito é a errata.
Convenhamos que um autor como Marco Lucchesi, contemporâneo
nosso, com quase total liberdade de expressão, não precisa de se acautelar com censuras,
a não ser as de autores como aquele que agora escreve, pois nada mais é o crítico
atual do que o antigo censor. Era hábito dos poetas árcades, v.g., submeterem os
seus versos à censura dos colegas, como
eles próprios declaravam.
Se Rabelais se abrigou sob o anagrama de Alcofrybas
Nasier, Marco Lucchesi abriga-se sob o de Lúcio Marchesi na sua já reiteradamente
referida obra, Catálogo da biblioteca do Excelentíssimo Senhor Marquês Umbelino
etc.
A modernidade, sem a qual não sobreviveríamos nesta
faina de escrever, musiquiar, dançar ou pintar, cavou um fosso entre obra de arte
e público, ao eliminar a diversão. O entretenimento não desapareceu da nossa vida,
mas alojou-se, em maior abundância, noutros meios que a modernidade também pôs à
nossa disposição para veículos de arte, tornados domésticos no correr dos tempos.
Hoje são individuais além de domésticos ou familiares: rádio, televisão, Internet.
A diversão, dita entertainment pelos grandes produtores e difusores de audiovisuais,
não só passou a ter assento maioritário na mídia, como se diz na língua laputar,
se não erro muito, como se transmudou em indústria com o sequente comércio, tão
para todos em todo o mundo que se chama global.
Então, nos dias que correm, o riso é um produto entre mil para consumo, já não público,
antes largamente privado, uma vez que cada habitante do mundo tem o seu televisor,
o seu laptop, o seu high phone, entre uma dezena de outros artefactos
para o efeito em difusão nas feiras tecnológicas, a sair das fábricas e em congeminação.
Em suma: salvo raras exceções, como o Catálogo da biblioteca do Excelentíssimo
Senhor Marquês Umbelino Frisão etc., e os Rudimentos da língua laputar,
de Marco Lucchesi, a diversão migrou para os géneros próprios dos meios de comunicação
de massa. A arte culta, desprovida desses poros do bom humor, tornou-se demasiado
circunspecta e por vezes ridiculamente pomposa. Uma seca!, diria Eça de Queirós, um romancista português. Mérito grande
de Marco Lucchesi foi o de ter recriado excelente literatura paródica, parte dela
protagonizada por Umbelino Frisão, esse grande homem de quem Mário Soares referiu,
no elogio fúnebre, junto à sepultura no Mosteiro dos Jerónimos: Umbelino, Camões e Fernando Pessoa formam a sublime
trindade portuguesa. Descanse agora em paz, o mestre das nações.
Umbelino Frisão foi o último dos filósofos naturais,
toda a vida tendo votado à filosofia da litosfera, de Urânia e de outros acidentes
da crusta celeste. Esta personagem suporta quase sozinha uma narrativa indireta,
a tecer pelo leitor, e que por isso é razoavelmente aberta: não se trata da obra
aberta, se bem que fique patente em tudo o nosso mestre Umberto Eco, sim de personagem
aberta, a criar pelo leitor. Umbelino Frisão, que não enche tanto o estômago como
Pantagruel e Gargântua, mas que enche mais o espírito com palavras do que eles a
barriga com vinho e javali no espeto, tem costela de filósofo natural, esse proto-cientista que, como Rabelais, foi simultaneamente
médico, padre, escritor, e o que o médico
subentende: botânico, para com as plantas criar as suas poções mágicas e mezinhas.
Nascido em Coimbra a 6 de abril de 1931, Umbelino Frisão é um Pantagruel mental,
que logo aos dois anos de idade começa a estudar na Universidade, e o quê? Pois,
ele estuda, entre 1932 e 1941, ontologia com o professor Ernst Luwer, lógica formal
com o doutor Czeslaw Wysziynski, física quântica, e geologia comparada com o professor
James Hutton. Em 1945, com catorze anos, já sabia tudo da filosofia hídrica e publicara
o primeiro tomo da Filosofia da litosfera. Nos dois tomos desta hercúlea
obra repousa a sua maior coroa de glória.
Recentemente, Felipe Verdi lançou em dois volumes A
presença da música na obra de Umbelino e Anastássia Filipovna coordena um projeto
de livro, Água mole em pedra dura: diálogos entre Goethe e Frisão. A última
obra sobre o nosso excelso Umbelino, que aprovo e louvo, como das joias mais raras
da literatura paródica dos nossos tempos, já o sabemos, foi publicada em 2017, e
intitula-se, finalmente em citação integral, Catálogo da biblioteca do Excelentíssimo
Senhor Marquês Umbelino Frisão Doctor in Utroque Jure Sátrapa do Larapistão Grão-Mestre
dos Incunábulos Imateriais Pontífice da Imaculada Ordem das Traças Intérprete da
Filosofia Urânia Judiciosamente Compilado pelo Doutor Lúcio Marchesi, e exibe
a autoria de Marco Lucchesi.
3 Gledson Sousa
e a magia
Só quero sair
Desse país [e ir para…]
Algum lugar
Que não se envergonhe da beleza.
GLEDSON SOUSA
Gledson
Sousa partilha, com Claudio Willer e tantos outros poetas, brasileiros e de outras
partes do mundo, uma vocação para o que a vida apresenta além da realidade factual.
O título do livro, A mimésis mágica, já por si é eloquente, uma vez que traz
à baila um tema complexo, em debate em vários setores, desde o religioso ao filosófico,
desde o artístico ao antropológico. Na realidade, o centro dinamizador do livro
são as tribos índias, mas em torno perfila-se uma multiplicidade de cultos e ritos
de outras gentes e de outras partes do mundo. A imitação pode ser um ato de magia,
e na arte, diz Georg Lukács, o princípio antropomorfizador, próprio da formação
artística, é precisamente o que tem de comum a arte e a magia. Mas pode verificar-se
o contrário, que é magia também: o ser humano é que se transforma em animal e, por
isso, nos ritos indígenas, os bailarinos revestem-se de indumentária alusiva ao
animal protetor, sendo comum, nas várias partes do mundo, a máscara com cornos,
a invocar o touro ou o boi. Porém a magia não se esgota no zoomorfismo, também arrasta
até si a vegetação e a mineralogia, num todo natural em que o ser humano comunga
e no qual se confunde.
Verdade se diga, entretanto, que a mimese mágica não
precisa de ser exercida sobre algo exterior à poesia. Será que Gledson acredita
que a poesia é mimese, cópia do mundo mágico, tal como outros pensaram ou propuseram
que a arte fosse imitação do real? Creio que o poeta pretende com o título, que
é uma síntese de arte poética, imitar algo que lhe aconteceu interiormente. Um estado
de alma, uma fenda no ser que abriu para um universo inesperado, em resultado de
experiências com uma poção mágica oriunda das tribos índias. Tornou-se um xamã depois
disso, e o fogo, um fogo real e um fogo metafórico, atingiu em cheio o poeta.
Claudio Willer escreve, em prefácio, que este e outros
livros de Gledson Sousa “permitem situá-lo como representante do melhor da poesia
contemporânea brasileira, condição ainda insuficientemente notória por sua discrição,
sua característica de não ser um perseguidor de glórias”. Concordo em absoluto.
Basta ver que a pesquisa no Google poucos resultados apresenta, além dos textos
com que Gledson Sousa tem honrado o Triplov.
Em “Kalíngua” não encontramos só miscigenação de deuses
e culturas, a língua é sinal que aponta igualmente a mistura de idiomas. Mais evidente
para nós, o espanhol, aqui e ali a semear o poema com uma cola, um caliente, uma culebra e, muito menos evidente, o sânscrito
yoni: Tua coxas têm / A cor dos nenúfares
/Tua yoni a claridade /Que se esconde atrás de um buraco negro […]. De notar
o erotismo que trespassa os versos, nem sempre ato de prazer, por vezes a referência
ao sexo vem em defesa das vítimas absolutamente contemporâneas, já que o Brasil
é o país onde mais se mata por questões de diferença sexual, sobretudo transexuais.
Na página 70, quase no final do poema, lemos um segmento que toca precisamente na
questão e prognostica um futuro de liberdade sexual e até de sexos mistos:
[…]
Da serpente em seu ovo de vidro
Das crianças que emergem
Do ventre da terra
Depois de resistirem a toda treva
Das sagas que os poetas recomeçam
A trama de luz que engendra
O que os bardos cantam
Novos barcos cruzarão mares leitosos
Em cima, em baixo
Mulheres e homens criarão asas
Terão suaves línguas bífidas
Amarão sem medo
Cada centímetro de pele, cada gesto
Haverá sexos mistos, novas formas
De o humano expressar sua essência
Andróginos, hermafroditas
Homens-planta
Mulheres-hematitas
Anjos de três sexos
Daemons sem sexo algum […]
O poema “Kalíngua” é belíssimo, reclama leitura
integral, a cada verso deparamos ora com metáforas vibrantes ora com ideias de entontecer,
porém só transcrevemos dele a abertura:
KALÍNGUA
Há uma ira derviche na dança da lua
Que de costas ao sol mastiga crânios, bêbada
Pisoteando túmulos, excrementos
Ela mistura os elementos, dissolve as forças
Fraca e forte, traz o abismo ao palco
Julgamento da flácida mentira que envolve
As armas, os barões, os banqueiros
Segura a foice, corta entre os dentes
A carne podre dos presidentes, pastores, homens santos
Que com uma mão afagam, com a outra estrupam
O verbo, o sagrado, o feminino
[…]
Agrada ao português a mistura de Os Lusíadas
com o poema brasileiro, com ela volto ao café Cristallo, em São Paulo, para retomar
o fio da conversa com o Gledson, que começou pela magia, por uma poção alucinogénea
manipulada pelos índios, chamada Daime ou Ayahuasca, tomada por ele. Leio, na Internet,
no site do Hospital Santa Mônica que
O chá de ayahuasca, também conhecido como Santo Daime,
é uma bebida feita a partir da infusão de duas plantas amazônicas: o cipó-jagube
e o arbusto-chacrona. A palavra ayahuasca tem origem indígena e pode ser traduzida
como vinho dos mortos. O chá é utilizado há milênios por índios da América
do Sul em rituais de extrema religiosidade, e somente no século passado surgiram
seitas não indígenas que fazem o uso da bebida. Atualmente, cultos religiosos como
o Santo Daime, Céu de Maria, Porta do Sol e União do Vegetal têm o consumo da bebida
como ritual – hábito que é permitido no Brasil pelo Conselho Nacional de Políticas
Sobre Droga (CONAD).
Gledson Sousa abre as portas à cultura indígena, experimentou
a poção mágica, que lhe permitiu, na minha opinião, intensificar o seu próprio fogo
interior, a sua inspiração poética, factos transferidos para os poemas. O livro
revela simpatia pelas culturas indígenas e movimentos indigenistas, o que aliás
fica patente na dedicatória de um poema a Betty Mindlin, responsável pela obra coletiva
Couro dos espíritos – Namoro, pajés e cura
entre os índios Gavião-Ikolen de Rondônia, que a divulgação da editora informa
ser um mergulho no xamanismo e em outras tradições
de um povo indígena brasileiro, meio século depois do primeiro contacto. Quanto
ao couro dos espíritos que dá título ao livro, remete para a dança e música dos
rituais indígenas. No final do artigo, partilho um vídeo que nos permite conhecer
um pouco deles. Transcrevo o poema “Couro dos Espíritos” na íntegra, se bem que
outros sejam mais expansivos, caso do fabuloso hino a Kali, “Kalíngua”, de que já
vimos fragmentos. O poema deixa entender que Gledson opera uma fusão de culturas
mágicas, orientais e dos índios da América do Sul, e não exclusivamente brasílicos.
Deparamos, por exemplo, com Milarepa, mágico, poeta e mestre do budismo tibetano
do século XII, santo dos mais venerados. De notar a mimese mágica na transmutação
do sujeito poético em pedra, em pétala, em espaço, em orquídea etc., o inverso do
princípio da magia invocado por Lukás, que seria o de antropomorfizar, o de tornar
humano o espaço, a orquídea, a pedra etc.
COURO DOS ESPÍRITOS –
APRENDIZAGEM
Para Bete Mindlin
Me imagino pedra
Na verdade
Trago o sol nas mãos
Amparo por um segundo
A bola de fogo
Antes de ser pétala
Sou espaço
Depois
Orquídea num vaso
Dançando em silêncio
A luz
A meta é ser onça
Lontra ou puma, tanto
Onda quanto semente
Não há forma
Nada que limite
Já dizia Milarepa percutindo o vazio
Atravessando a rocha
Como um grão de poeira
Cruza o vento
Em linha reta
O que permanece é o que persiste
Mantra interior
Cantando em tramas paralelas
Do universo
Couro dos espíritos.
MARIA ESTELA GUEDES (Portugal, 1947). Poeta, dramaturga, editora e ensaísta. Licenciada em Literatura pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 1978. Membro da Associação Internacional de Críticos Literários (AICL), da Associação Portuguesa de Escritores (APE), da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), do Centro Interdisciplinar da Universidade de Lisboa, do Instituto S. Tomás de Aquino (ISTA), da Associação 25 de Abril, das Comissões Interinstitucionais da Academia Lusófona Luís de Camões e do Instituto Fernando Pessoa – Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas. Nessa qualidade vem integrando as Comissões de Honra de diversos congressos. Investigadora no Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Lisboa (CICTSUL), tendo co-organizado cinco edições do colóquio internacional “Discursos e Práticas Alquímicas” e os dois primeiros volumes das respectivas atas. Foi Assessora Principal da bibliotecária no Museu Bocage Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Lisboa. É igualmente diretora da página web Triplov.
JORGE DE LIMA (Brasil, 1893-1953). Poeta, ensaísta bissexto, artista plástico. Sua obra está ligada à segunda geração do modernismo brasileiro, apresentando traços do surrealismo e símbolos religiosos e pagãos da cultura negra. Misticismo mágico que melhor o situa como um mestiço lírico, e ele próprio um dia diria: O lirismo perdeu a sua liturgia. Esta liturgia era exatamente o que sempre buscou recuperar, tendo se aventurado por diversos modos de composição, do soneto ao poema branco e a poesia épica. Em uma dessas vertentes criativas enveredou pelo recorte fascinante da colagem surrealista, seu grande poema plástico, que o traz à nossa edição como artista convidado.
Agulha Revista de Cultura
CODINOME ABRAXAS # 04 – TRIPLOV (PORTUGAL)
Artista convidado: Jorge de Lima (Brasil, 1893-1953)
Editores:
Floriano Martins | floriano.agulha@gmail.com
Elys Regina Zils | elysre@gmail.com
ARC Edições © 2025
∞ contatos
https://www.instagram.com/agulharevistadecultura/
http://arcagulharevistadecultura.blogspot.com/
FLORIANO MARTINS | floriano.agulha@gmail.com
ELYS REGINA ZILS | elysre@gmail.com

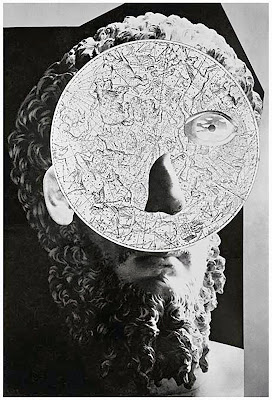




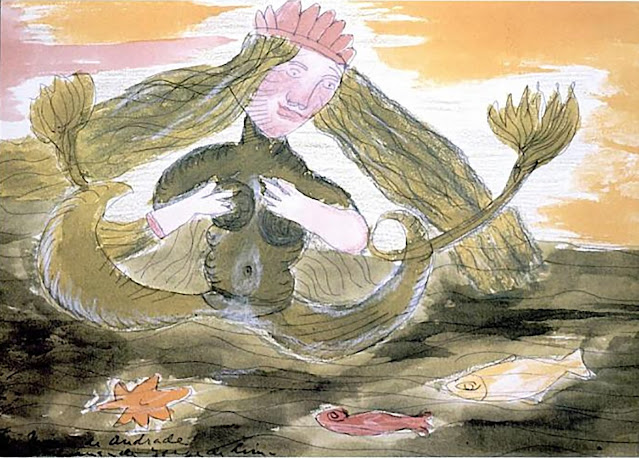



Nenhum comentário:
Postar um comentário